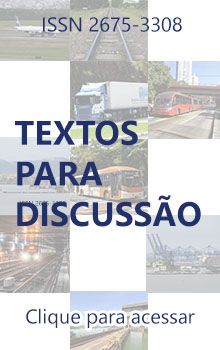Para além dos números: interpretando os dados do Censo Demográfico de 2022 sobre mobilidade urbana em Manaus
Por Cristiano da Silva Paiva
Doutorando em Geografia, UFSC
A mobilidade urbana em Manaus, conforme os dados do IBGE de 2022, revela padrões complexos de desigualdade e segregação no acesso ao transporte público. A pesquisa do IBGE aponta para uma clara divisão racial nos modos de transporte utilizados, o que reflete a exclusão socioeconômica de grupos específicos. Por exemplo, enquanto 41,3% da população branca utiliza automóveis, apenas 32% dependem de ônibus, destacando o maior acesso da população branca ao transporte individual. Em contraste, 42,4% dos negros e 42,5% dos pardos dependem do transporte coletivo, com uma menor porcentagem utilizando automóveis (22,5% e 25,4%, respectivamente).
A comparação entre os dados do PlanMob 2015 e da pesquisa do IBGE 2022 revela transformações significativas no padrão de mobilidade urbana em Manaus. Em 2015, a distribuição modal apresentava uma configuração mais equilibrada entre as três principais categorias: transporte coletivo (39,5%), modos motorizados individuais (30,5%) e modos não motorizados (30%). Esta divisão praticamente equitativa entre individuais motorizados e não motorizados indicava uma cidade com expressiva participação de deslocamentos ativos.
Setes anos depois, o cenário mostra mudanças. O transporte coletivo manteve sua posição predominante, com ligeiro aumento para 39,99%, demonstrando a resiliência do sistema de ônibus como espinha dorsal da mobilidade manauara. Entretanto, a grande transformação ocorreu na significativa transferência modal dos deslocamentos não motorizados para os motorizados individuais. Os modos não motorizados sofreram drástica redução, caindo de 30% para 11,82%, enquanto os modos individuais motorizados saltaram de 30,5% para 37,51%.
Esta mudança revela um processo acelerado de motorização e simultaneamente de perda de importância dos deslocamentos a pé e por bicicleta, possivelmente relacionado à expansão urbana periférica, à precarização das condições para mobilidade ativa e ao aumento do poder aquisitivo para aquisição de veículos individuais. A manutenção da participação do transporte coletivo, apesar dessas mudanças, sugere que este segue sendo opção indispensável para uma parcela significativa da população, embora sem capacidade de atrair novos usuários em proporção equivalente ao crescimento da motorização individual.
A análise dos dados sobre a sobrecarga temporal nos deslocamentos urbanos em Manaus evidencia uma desigualdade no acesso à mobilidade, afetando de forma desproporcional os grupos mais vulneráveis, especialmente os trabalhadores de baixa renda, em sua maioria negros e pardos. Dados do IBGE de 2022 indicam que 52,24% da população da cidade gasta mais de uma hora diária em deslocamentos, uma penalidade significativa que impacta diretamente na qualidade de vida desses grupos, comprometendo sua saúde, produtividade e acesso a serviços essenciais. Este dado corrobora o que foi observado por Vasconcellos (2016), que destaca que a população de menor renda representa 53% das viagens diárias, sendo a mais prejudicada pela ineficiência do transporte coletivo, que exige maiores tempos de deslocamento quando comparado aos trajetos feitos por automóveis.
Nos trajetos mais longos, entre 2 e 4 horas, o ônibus representa 84% dos deslocamentos, conforme os dados do PlanMob (2015), que indicam que os usuários de transporte coletivo enfrentam uma média de tempo de viagem superior a 50 minutos por percurso, em comparação aos 20 minutos dos usuários de automóveis. Esta dependência do transporte público é uma realidade vivida especialmente pelos residentes das periferias, que são forçados a utilizar um sistema de ônibus precário e ineficiente, o que agrava ainda mais a segregação social e racial em Manaus. Como apontado por Paiva (2019; 2025), a disparidade no tempo de deslocamento entre os modais se reflete em uma grande diferença nos trajetos percorridos, especialmente nos bairros mais periféricos, como Puraquequara, Tarumã-Açu e Cidade Nova, onde os tempos de viagem podem ultrapassar duas horas, em contraste com os bairros mais centrais, que conseguem percorrer as mesmas distâncias em meia hora.
Conforme é possível observar, no ano de 2019 a pesquisa de Paiva (2019) já sinalizava tempos de viagem similares aos apontados pelo resultado do censo do IBGE de 2022 e se particulariza ao apontar que os bairros da zona oeste e leste são os que apresentam maior tempo de deslocamento até o campus da UFAM. As viagens mais longas, via automóvel, estão relacionadas aos bairros mais distantes do campus e têm duração máxima de 40 minutos, enquanto isso, as viagens por ônibus podem chegar até 174 minutos (2h 54min.), um tempo de 135 minutos (2h 15min.) a mais em relação aos trajetos por transporte individual. Em geral, a média de percurso por automóvel é de 22 minutos e por ônibus 84 minutos (1h24), ou seja, em relação às viagens por transporte individual, o transporte coletivo leva em média uma hora e vinte minutos a mais para acessar a universidade.
A predominância da população negra e parda nos trajetos mais longos, com uma dependência elevada do transporte público, expõe uma penalidade temporal desproporcional imposta a esses grupos, o que se reflete em uma perda de horas valiosas no cotidiano. Esse cenário agrava a exclusão social e racial na cidade, pois a mobilidade urbana, ao invés de ser uma ferramenta de integração social e acesso, torna-se um obstáculo real, limitando o acesso a oportunidades de emprego, lazer e educação para grande parte da população. Conforme Vasconcellos (2016) observa, os trabalhadores de baixa renda acabam sacrificando horas preciosas de trabalho e descanso devido à falta de investimentos adequados no sistema de transporte público e à ausência de políticas públicas que atendam às suas necessidades. A penalidade temporal imposta a esses indivíduos é uma manifestação concreta da desigualdade estrutural que permeia as cidades brasileiras, particularmente em contextos de urbanização desigual como em Manaus.
O sistema de transporte público de Manaus revela indicadores alarmantes que são um reflexo da carência histórica de investimentos em transporte coletivo de massa eficiente. Aproximadamente 40% da população depende exclusivamente de ônibus, um dado que destaca a grande dificuldade da cidade em oferecer alternativas viáveis de mobilidade para a população. A falta de alternativas de transporte sobre trilhos, ou sistemas mais rápidos e velozes que poderiam reduzir a sobrecarga do sistema de ônibus e atender a uma maior demanda de deslocamentos, expõe a fragilidade da infraestrutura urbana de Manaus.
Os dados indicam problemas estruturais no sistema de transporte de Manaus revelando uma clara exclusão de modais alternativos. A falta de infraestrutura adequada para esses modais não apenas perpetua a dependência do transporte individual por carro e moto, mas também contribui para a sobrecarregamento do sistema de ônibus, gerando impactos na qualidade de vida e acesso à mobilidade para a população, especialmente para aqueles que vivem em áreas periféricas e são mais vulneráveis à exclusão socioeconômica.
- Bicicleta: A utilização da bicicleta no transporte urbano em Manaus é extremamente baixa, representando apenas 0,58% do total de deslocamentos. Este dado evidencia uma carência grave de infraestrutura cicloviária, um fator que impede que a bicicleta se torne uma alternativa viável e segura para a população. De acordo com Campos e Ramos (2005), a mobilidade urbana deve estar intimamente ligada ao uso do solo e à acessibilidade, e a falta de uma rede cicloviária eficiente impede que Manaus aproveite seu clima quente e a possibilidade de implementar rotas cicláveis que poderiam beneficiar não apenas a saúde da população, mas também contribuir para a redução dos congestionamentos e da emissão de gases.
- Transporte aquático: Embora Manaus seja uma cidade com características fluviais, o transporte aquático é subutilizado, representando apenas 0,32% dos deslocamentos. A subutilização deste modal é um reflexo claro da falta de investimentos e de um planejamento adequado que explore o potencial do transporte fluvial na cidade. A cidade, localizada em um dos maiores rios do mundo, o Amazonas, poderia transformar seu potencial fluvial em um meio eficiente de transporte, aproveitando sua geografia única para desenvolver rotas que conectem as diferentes partes da cidade e minimizem os congestionamentos urbanos.
- BRT (Bus Rapid Transit): O sistema BRT em Manaus também apresenta índices de utilização preocupantes, com apenas 0,5% de representatividade no total de deslocamentos. Isso indica que o projeto do BRT, que deveria melhorar a eficiência do transporte coletivo, é insuficiente ou mal implementado. A falta de continuidade na infraestrutura dedicada e a baixa cobertura do sistema comprometem a proposta inicial de um transporte rápido e integrado. A baixa cobertura do sistema e a ausência de corredores exclusivos para os ônibus são limitações significativas que impactam diretamente a qualidade do serviço e tornam o BRT uma alternativa pouco atrativa para a população.
Desta forma, quase 40% da população de Manaus depende do ônibus, o que torna o sistema de transporte coletivo sobrecarregado e ineficiente. A falta de infraestrutura adequada, como faixas exclusivas para ônibus e terminais de integração eficientes, tem um papel central na superlotação dos veículos, longos tempos de espera e congestionamentos diários.
A utilização do automóvel por 28,95% da população contribui diretamente para os congestionamentos em Manaus, uma realidade constante nas vias mais movimentadas. Embora o carro proporcione maior conforto e liberdade, o aumento do número de veículos nas ruas resulta em engarrafamentos diários, especialmente durante os horários de pico. A falta de políticas públicas que incentivem a utilização de transportes públicos e alternativos é uma das causas fundamentais do aumento dos congestionamentos atuais.
A mobilidade a pé é o modo principal de deslocamento por cerca de 11,24% da população. As calçadas irregulares, muitas vezes ocupadas por obstruções como barracas e carros estacionados, dificultam a locomoção dos pedestres, especialmente em áreas periféricas ou de grande movimento. A ausência de calçadas adequadas e a falta de infraestrutura de transporte não motorizado contribuem para a exclusão social, principalmente dos moradores de baixa renda, que frequentemente dependem do deslocamento a pé.
A motocicleta representa 8,56% dos deslocamentos, e é uma solução paliativa de risco. As motocicletas são frequentemente utilizadas devido à sua agilidade no trânsito e menor custo de aquisição e manutenção, mas apresentam riscos elevados de acidentes, especialmente em uma cidade com vias mal estruturadas e sem a devida sinalização. A dependência crescente de motocicletas reflete a falta de opções mais seguras e eficientes para o transporte público e privado, além de indicar a fragilidade do sistema de mobilidade urbana. A motocicleta se torna uma alternativa para quem não pode arcar com os custos de um transporte público mais eficiente ou alternativas mais seguras, como os ônibus rápidos (BRT). Kneib (2011) reforça a importância de investir em infraestruturas que garantam a segurança e eficiência dos sistemas de transporte, sendo as motocicletas uma solução que agrava os riscos de acidentes, sem resolver o problema da eficiência na mobilidade urbana.
Os microdados indicam um alerta em relação à vulnerabilidade dos grupos específicos no contexto da mobilidade urbana em Manaus e pode estar refletindo a exclusão social e a marginalização de determinadas populações. Quando a mobilidade urbana é analisada sob a ótica dos grupos mais vulneráveis, evidencia-se como o transporte se torna uma barreira para a inclusão social, a promoção de bem-estar e a equidade na cidade. A ver:
- Indígenas: 22% vão a pé – Possível indicador de exclusão extrema; Cerca de 22% da população indígena em Manaus se desloca a pé, um número alarmante que aponta para um alto grau de exclusão no acesso à mobilidade urbana. Esse dado reflete a falta de infraestrutura e a ausência de políticas públicas adequadas para atender às necessidades de deslocamento dessa população. A mobilidade a pé é um indicativo claro de que o sistema de transporte não é acessível ou não está disponível para esses grupos, forçando-os a enfrentar calçadas irregulares e obstruídas, além de vias sem segurança. A exclusão extrema representada pela falta de opções viáveis de transporte é um reflexo de um sistema que não prioriza a integração social e a acessibilidade para todos.
- População preta e parda: Maior dependência de ônibus + tempos longos = Dupla penalidade; A população preta e parda em Manaus enfrenta uma dupla penalidade no acesso à mobilidade urbana. Cerca de 42,4% dos negros e 42,5% dos pardos dependem do transporte coletivo e com uma maior dependência de ônibus, essa população enfrenta tempos de deslocamento longos, realidade relacionada à segregação socioeconômica e racial que limita as opções de transporte disponíveis para esses grupos.
Os resultados apresentados constituem um retrato contundente de como a mobilidade urbana em Manaus reflete e reproduz padrões históricos de desigualdade. Longe de ser uma questão meramente técnica ou de infraestrutura, a organização dos deslocamentos na cidade revela-se como um poderoso indicador das assimetrias que estruturam o espaço urbano brasileiro.
A segregação modal identificada - onde raça e renda determinam o acesso a meios de transporte eficientes - não é um fenômeno casual, mas sim a manifestação concreta de um processo histórico de exclusão espacial. A concentração do transporte individual entre a população branca e de maior renda, em contraposição à dependência do transporte coletivo por negros, pardos e trabalhadores de baixa renda, configura uma geografia do privilégio que se desenha sobre o mapa da cidade.
A superação deste cenário exige não apenas investimentos em infraestrutura, mas uma reorientação das políticas urbanas, com o reconhecimento da mobilidade como direito fundamental e condição para o exercício da cidadania. Significa, em última instância, repensar a própria ideia de cidade que se quer construir - se uma cidade para poucos ou uma cidade para todos.
Referências
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Panorama Censo 2022: Manaus. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/pesquisa/10105/0. Acesso em: 22 out. 2025.
CAMPOS, L.; RAMOS, R. O Sistema de Transporte Urbano: mobilidade e uso do solo. 2. ed. São Paulo: Editora XYZ, 2005. p. 73.
KNEIB, A. A mobilidade urbana e o transporte público: análise da dinâmica e desafios de Manaus. Manaus: Editora UFAM, 2011.
MANAUS (AM). Prefeitura Municipal. Plano de Mobilidade Urbana de Manaus (PlanMob-Manaus). Lei Ordinária nº 2.075, de 29 de dezembro de 2015. Disponível em: https://www.manaus.am.gov.br/immu/wp-content/uploads/sites/14/2023/07/PlanMob_Manaus.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
PAIVA, C. S. Mobilidade urbana e acesso ao campus: um estudo das interações espaciais entre bairros de Manaus e a Universidade Federal do Amazonas. Florianópolis: Laboratório de Estudos sobre Circulação, Transportes e Logística (LabCit), 2025. v. 6, n. 1, p. 515-536.
PAIVA, Cristiano da Silva. Análise da distribuição espacial dos bairros de moradia dos estudantes de graduação da UFAM, modos de transporte e impactos sobre a duração das viagens para acesso ao campus. 2019. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7446. Acesso em: 22 out. 2025.
SOUZA, G. A. Espacialidade urbana, circulação e acidentes de trânsito: o caso de Manaus – AM (2000 a 2006). Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
VASCONCELLOS, E. A. O que é o trânsito. São Paulo: Brasiliense, 1984.